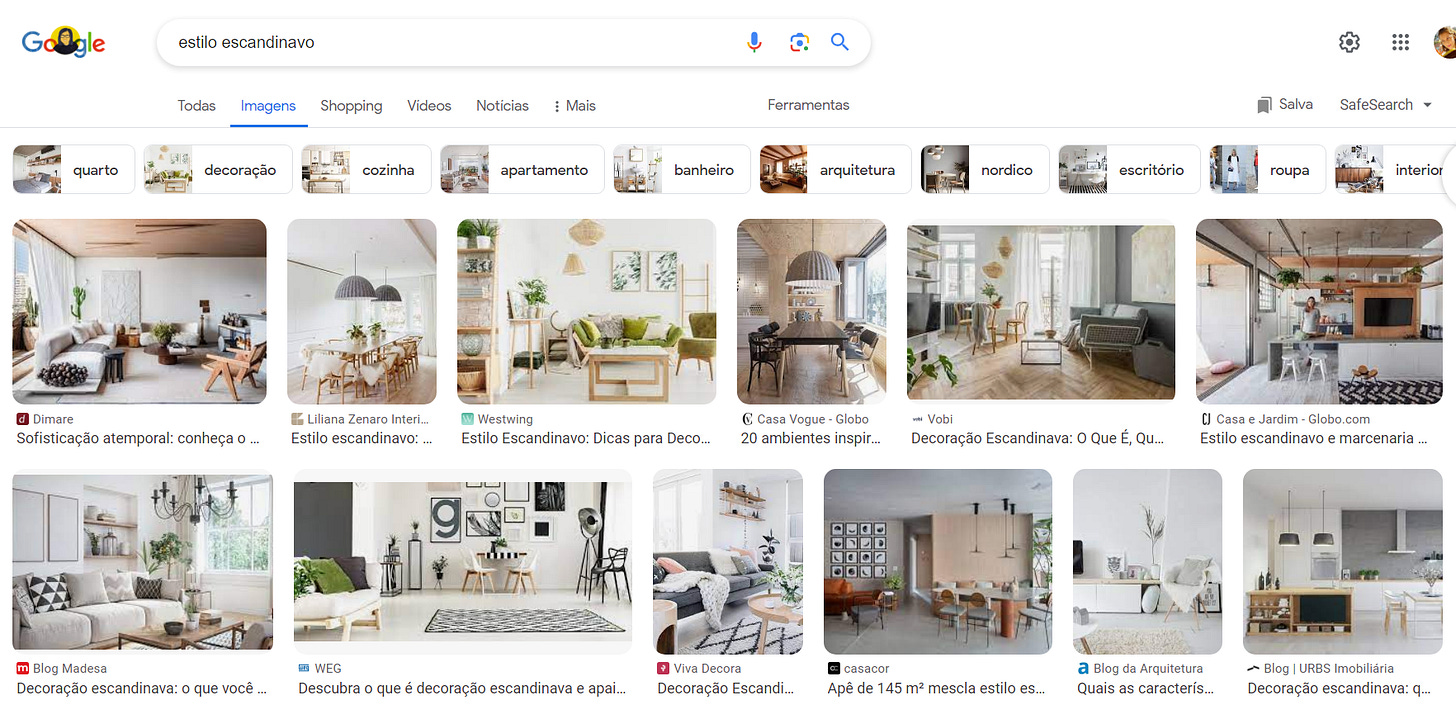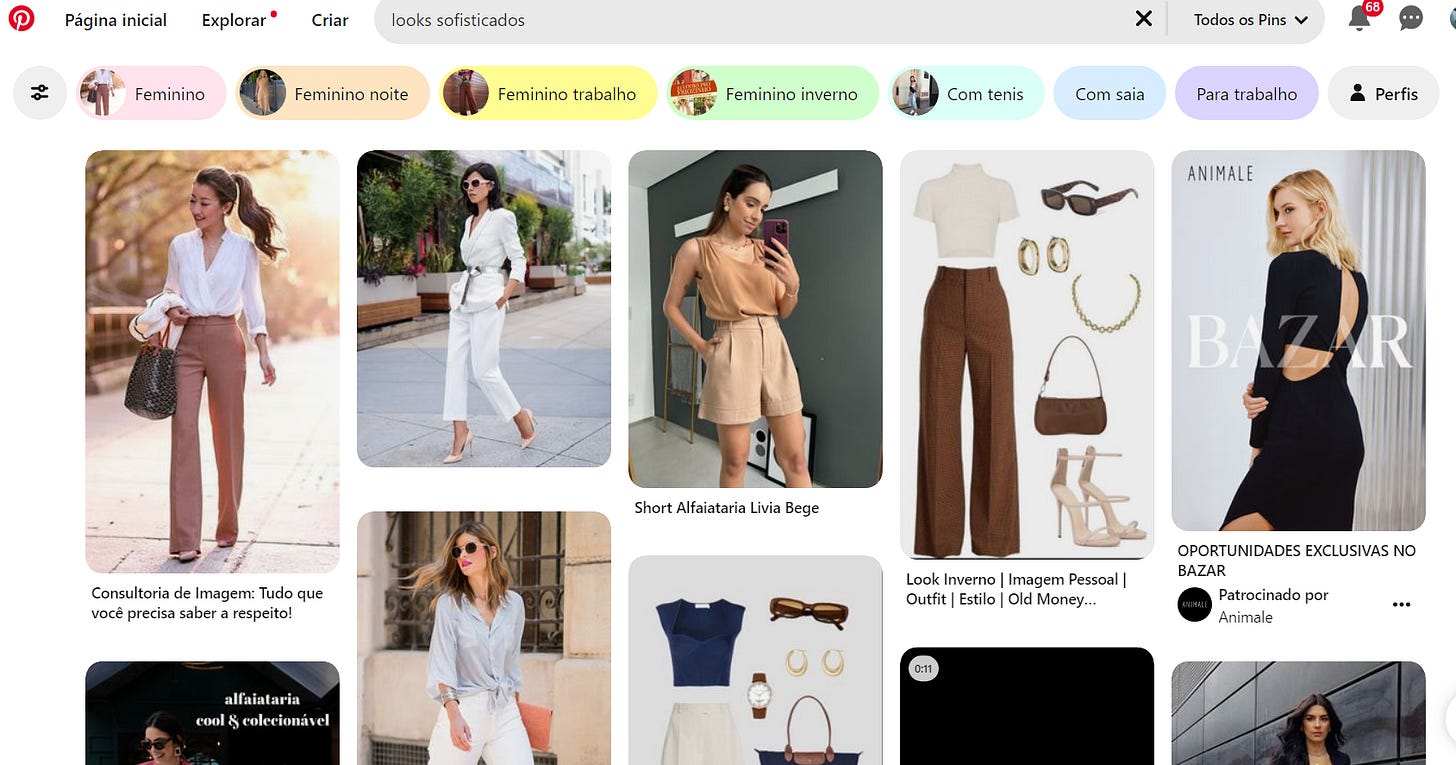Branco, bege, cinza
Minimalismo, CCXP e mais uma feira de artes
Oi, pessoal!
To aqui de novo, e já aviso que essa newsletter fugiu um pouco do controle, batendo o limite de caracteres do Substack. Oops!
Vai ter feira! \o/
Dia 10 de dezembro, eu e outros três membros da Banca (Dio's Mio Dioramas, Ateliê RoMa e Libretin) participaremos da Feira do Beco, dentro do Beco do Batman, na famosa e badalada Vila Madalena. É no mínimo irônico pensar que eu e o Gab moramos oito anos naquela região e nunca participamos de nenhuma feira, mas… Antes tarde do que nunca, não é?
Menos irônico e mais sintomático de um grupo iniciante é o fato de que, como nenhum de nós estava confiante de que conseguiríamos algum evento ainda este ano, ninguém produziu muita coisa. Eu mesma vinha focando em estudos e experimentações, e o que tinha pronto era basicamente o que sobrou da feira passada. Será que teremos novas produções até lá? Uma, pelo menos, eu tenho:
A Feira do Beco rola no dia 10/12, das 10h às 18h, dentro do bar BeCool – Rua Gonçalo Afonso, s/n. Venham nos visitar!
Partiu CCXP (de novo)
Falando em eventos, semana que vem eu e o Gab partimos em mais uma aventura pela CCXP, ou Comic Con Experience. Esta será nossa sexta Comic Con (ou sétima? não tenho certeza se fui em 2018), sendo que a do ano passado foi a única que visitamos como turistas, sem trabalhar. Desta vez, os papéis estão invertidos – ao invés de o Gab me ajudar na cobertura jornalística, eu é que vou fazer assistência para ele, que terá a missão de fotografar o stand da Chiaroscuro Studios. #muitochique
Esta tende a ser uma experiência bem diferente das anteriores, não só porque cobriremos um único espaço (e não a feira toda!), mas também porque o foco não serão os estúdios e lançamentos de filmes e séries, mas sim uma empresa voltada especificamente para ilustração e quadrinhos. Este também será o primeiro ano em que eu e o Gab assumimos nossas novas “carreiras” – ele como fotógrafo, eu como ilustradora (apesar de eu ainda não conseguir me apresentar assim na frente de outros ilustradores). Agora, um passeio pelo Artist’s Alley terá alguns rostos conhecidos, como o do meu professor Tainan Rocha ou da fofa Helô d’Angelo, que conheci no último domingo. Será que um dia a gente chega lá?
Outra novidade é que o meu aniversário vai cair no meio do evento (quinta-feira, 30/11), então minha comemoração será provavelmente algum docinho por lá mesmo. O que é ótimo, pois não preciso pensar no que fazer de diferente para que o dia seja especial!.
Se você estiver por lá e quiser passar no stand pra nos dar um oi ou me trazer um bolinho, será muito bem vindo! =P
Mínimo, máximo e a personalidade das coisas
Mudando radicalmente de assunto, achei esse post do The Cultural Tutor (via Hidden NY) uma provocação interessante sobre o debate entre minimalismo e maximalismo que tenho visto crescer nos últimos meses na internet.
No Tik Tok e no Instagram, viralizou um áudio (atribuído muitas vezes a Hank Green, mas não consegui confirmar) dizendo “Eu odeio o minimalismo, não é minha vibe. Quero me sentir como um mago cercado por lembranças de suas diversas aventuras”:
Apesar de os dois lados serem extremos, acho saudável que muita gente esteja afirmando abertamente o seu gosto pela decoração mais carregada e cheia de lembranças e coisinhas acumuladas, como reação a um modelo escandinavo, branco e “clean”. Nada contra o escandinavo em si, mas o fato de um padrão branco-bege-cinza ter dominado as referências visuais do mundo contemporâneo talvez diga alguma coisa que ainda não percebemos sobre o que consideramos “bonito” e por quê.
Nesse post que mencionei, o autor compara a arquitetura cheia de detalhes e cores de outras décadas com os seus correspondentes atuais – peças prateadas ou envidraçadas que se esforçam para se camuflar em meio ao concreto, ou entre paredes brancas e peladas.
Se essa arquitetura é, de fato, “sem identidade”, como ele defende, não sei se concordo. A mim, mais parece uma identidade elitista, às vezes pretensamente futurista, porém um tanto medrosa ou preguiçosa. Talvez um dia tenha expressado algo importante, mas hoje não parece ter mais o que dizer.
Expandindo um pouco a questão, um dia desses passei algumas horas passeando pela rua Oscar Freire, em São Paulo. Para quem não conhece, essa é uma via luxuosa que concentra algumas das lojas mais chiques da cidade ao lado de marcas mais comuns, mas que exibem ali suas lojas-conceito e fachadas gigantes que convidam muito mais ao turismo do que às compras.
O que me chamou a atenção foi o quão semelhantes estavam as vitrines da maioria das lojas: branco por todo lado, bem como tons terrosos e elementos que remetem ao orgânico, ao cru e ao natural. A natureza serena, em tempos de apocalipse climático, virou mesmo sonho de consumo.
Olhar aquelas lojas me fez lembrar de quando procurava uma mesa de jantar no início do ano, e acabamos não tendo opção a não ser ir de madeira e off white – coisa da qual me arrependo um pouco toda vez que encosto as mãos no estofado. Pois essa é a questão com o branco: ele pode até transmitir tranquilidade e simplicidade, mas, na prática, é difícil de manter. E talvez seja por isso que se tornou tão associado à elite: ele dura pouco. Logo, ficará amarelado e será preciso gastar um tempo testando fórmulas mágicas para recuperá-lo ou, simplesmente, comprar uma peça nova. E quem é que pode fazer isso?
Creio que esse naturalismo limpo da moda tenha origens diferentes da decoração minimalista, ou da arquitetura nua dos prédios espelhados, mas todos parecem seguir para o mesmo lugar: o silêncio visual. E silêncio implica em não ouvirmos nenhuma voz – nem a do artista, nem a de quem o veste, ou habita, ou usa. Talvez, como sugere aquele mesmo post, seja uma tentativa de evitar o conflito, fugir da crítica ou do desagrado do consumidor. Mas talvez seja acima de tudo uma supressão do gosto pessoal, da expressão individual, da cultura local e específica – essa sempre associada ao “povo”: pobre, bagunçado, desconectado com o mundo moderno. Quem quer ser latino quando se pode ser escandinavo?
Veja bem: acho lindas algumas das referências e você também pode adotar plenamente um estilo ou outro, mas o que proponho aqui é pensar sobre quais são os padrões que definimos como elegantes, elevados, ideais, e por quê.
O que vejo é que o minimalismo, ao propor a redução de acúmulos, excessos e futilidades, pretende-se funcional, organizado, econômico, focado no que importa – mas a verdade é que o humano não sabe ser nada disso. A natureza também não: ela é caótica, múltipla e expansiva. Perigosa, até. Mas o que visamos como ideal estético é seguro, controlado, sem surpresas ou imprevistos. Sem louça suja, brinquedo espalhado no chão ou briga na mesa de jantar. Sem souvenirs que não combinam com a décor, sem cacarecos da vovó, sem porta-retratos ou tinta na parede. Nosso ideal, pelo jeito, não foi feito para nós.
Talvez todo esse branco seja uma tentativa de nos convencer de que somos todos iguais, que consumimos as mesmas coisas e compartilhamos os mesmos sonhos (porque assim fica mais fácil vender, produzindo para um imaginário público-padrão). O problema é que não somos iguais, e definitivamente ninguém é padrão. O que somos, para desespero dos minimalistas, é humanos: confusos, incoerentes, barulhentos e infinitamente coloridos.
Curtinhas
Muita gente está creditando o fracasso de bilheterias de As Marvels ao fato de ser protagonizado por heroínas (ou, como bem colocou Stephen King: “Eca! Meninas!”). Eu acho que até tem um lado assim, mas a grande verdade é que ninguém mais quer pagar caro pra ver um filme da Marvel nos cinemas, especialmente depois daquele Doutor Estranho horroroso (RIP WandaVision) ou do último Thor. Além disso, são heroínas ainda pouco estabelecidas no universo da marca: a Capitã Marvel até teve seu filme solo, mas ainda não entendemos muito bem qual é a dela, e muita gente não viu a série adorável da Ms. Marvel. Ela, aliás, carrega o carisma do filme nas costas.
Estou encantada com o trabalho da Kyne Santos, uma drag queen canadense que conta curiosidades sobre matemática de um jeito fácil e interessante:
Não conheço muito bem o trabalho da Taylor Swift, mas não se fala de outra coisa nos últimos dias. Não da sua música, infelizmente, mas da moça que morreu no show por conta do calor do Rio de Janeiro. Isso me fez pensar em duas coisas: uma, no fato de que a gente vê todos os dias o quanto a ganância de grandes empresas é responsável pelos maiores absurdos (proibir garrafa de água só pra poder cobrar um rim por uma dentro do estádio?), e mesmo assim não conseguimos fazer nada pra mudar isso; a segunda é no tamanho da falta de noção da artista para adiar o segundo show quando todos os fãs já estavam no estádio, passando o mesmo calor enquanto esperavam ela começar. Não ajudou muito, né?
Sobre ondas de calor, não sei se já recomendei aqui o livro do Kim Stanley Robinson, The Ministry For the Future. É uma leitura difícil e demorada, mas que é impossível de ignorar quando a gente olha ao redor. O autor, conhecido no meio da sci-fi, criou uma obra que tem um teor utópico, ao mesmo tempo em que deixa o leitor horrorizado com o que o aguarda em termos de mudanças climáticas. O que chamo de utópico é o fato de ele mostrar tudo o que poderia ser feito, burocraticamente, para reverter esse cenário – desde acordos com bancos e governos para reduzir emissões de carbono até a contenção do derretimento de geleiras (de um jeito que eu não entendi muito bem). Infelizmente, acho que só está disponível em inglês.
É isso por hoje, obrigada por me acompanhar até aqui! Se você gostou, compartilhe com alguém que poderá gostar também:
Até a próxima!